Gonçalo Antunes de Barros Neto
Publicado em 1516, Utopia não é só o batismo de um gênero; é um espelho invertido da Europa renascentista. Escrita por um humanista católico que dialogava com Erasmo, a obra usa a viagem fictícia de Rafael Hitlodeu para descrever uma ilha onde não há propriedade privada, as leis são poucas e claras, o trabalho é distribuído e a política é exercida por magistrados eleitos. Ao propor uma sociedade sem fome e com um dia de trabalho de seis horas, More não “prevê” o socialismo: compõe um experimento mental que confronta vícios de seu tempo — luxo, ociosidade nobre, pobreza, guerras dinásticas — com uma ordem racional e austera.
A comparação com Platão é inevitável. Em A República, a comunidade de bens vale para os guardiões; em Utopia, a abolição da propriedade é universal, vinculada a uma ética do comum e à disciplina do desejo. Platão legitima uma elite filosófica; More espalha a racionalidade pela cidadania: rotatividade de cargos, eleições em vários níveis, controle social sobre os dirigentes. Onde o filósofo antigo privilegia a unidade e harmonia, o humanista renascentista cultiva a moderação: conflitos são reduzidos por desenho institucional e por educação cívica, não por unanimidade forçada.
Com Maquiavel, o contraste é ainda mais incisivo. Enquanto O Príncipe investiga como o poder se conserva num mundo de contingências, Utopia interroga para que serve o poder. Maquiavel descreve o governante que usa a força, astúcia e aparências; More propõe freios deliberativos, fiscalização e virtudes públicas. Não por acaso, seu narrador é cético quanto a cortes reais e “razões de Estado” — ironizando a política europeia justamente quando ela se laiciza.
No século XVII, Campanella e Bacon retomam o fio utópico. A Cidade do Sol radicaliza o comunitarismo com teocracia e planificação total; é um misticismo político que sacrifica esferas de liberdade em nome do saber astrológico e do bem comum. Em Nova Atlântida, Bacon imagina a “Casa de Salomão”, centro de ciência aplicada: a ordem ideal desloca-se para a tecnocracia experimental. Em More, a técnica é auxiliar de uma economia moral: desprezo ao ouro (feito penico), sobriedade dos hábitos, prioridades públicas decididas por cidadãos — não por sacerdotes-cientistas.
No século XVIII, Rousseau ecoa e corrige. Como More, denuncia o luxo e a corrupção das sociedades opulentas; mas seu alvo é a desigualdade produzida pela propriedade e pela comparação social. A virtude rousseauniana brota da participação política e da educação cívica; o contrato social não requer ascetismo permanente, mas autogoverno. Já no XIX, Marx lerá a abolição da propriedade em chave histórica: sem explicitar classes e produção, Utopia seria “igualitária”, porém não materialista. De todo modo, a ilha moreana antecipa a crítica do fetichismo: os utopienses desencantam o dinheiro ao transformá-lo em metal inútil.
Importa notar as sombras do desenho: há escravidão (para criminosos e prisioneiros), controle de mobilidade (viagens com passaporte), forte patriarcalismo doméstico e uma tolerância religiosa ampla, porém desconfiada dos ateus. Esses elementos lembram que More escreve num mundo de hierarquias e cristandade; e que nenhuma utopia está imune a custos normativos. Aqui, a crítica de Karl Popper à “engenharia utópica” é pertinente: projetos perfeccionistas tendem a justificar meios perigosos para fins sublimes; melhor a engenharia gradual, com instituições corrigíveis. Em outro registro, John Rawls recupera o espírito do experimento: ao perguntar que princípios escolheríamos “por detrás de um véu de ignorância”, aproxima-se do gesto moreano de desenhar regras sem privilégios, mas preserva direitos básicos e um pluralismo que a ilha, às vezes, apertava demais.
Por que ler Utopia hoje? Porque ela ensina um método: pôr o existente diante do possível. Em tempos de desigualdade, fadiga democrática e crises ambientais, a ilha de More provoca três exercícios. Primeiro, imaginar políticas que tornem o supérfluo politicamente dispensável — orçamentos voltados ao comum. Segundo, reconstruir rotinas cívicas (tempo, trabalho, participação) que liberem a vida do consumo incessante. Terceiro, cultivar instituições revisáveis, conscientes de que nenhuma arquitetura elimina ambição, medo ou erro.
A força de Utopia não é prometer um paraíso, mas desnaturalizar o nosso mundo. Entre Platão e Maquiavel, entre Bacon e Rousseau, entre Marx e Rawls, Thomas More ergueu um espelho que ainda cora: se uma sociedade imaginária consegue organizar simplicidade, tempo comum e justiça elementar, por que a atual, concreta, aceita tanta carência no meio da abundância? A ilha é fictícia; a interrogação é real.
É por aí...
Gonçalo Antunes de Barros Neto é da Academia Mato-Grossense de Letras (Cadeira 7).

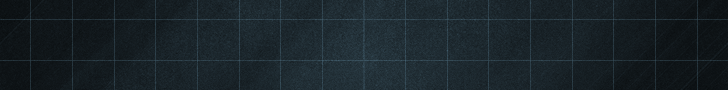












Ainda não há comentários.
Veja mais:
Golpe do falso advogado: TJ barra descontos de empréstimo
Operação apreende mais de 540 kg de cocaína na fronteira
PC prende acusado de série de crimes contra motoristas de aplicativos
Ministro anuncia renovações automáticas de CNH para bons motoristas
Estudo aponta aumento de preço da cesta básica: mais de R$ 800
Operação da PM derruba tráfico de drogas em Várzea Grande
Vitória para Mato Grosso. Conquista para o Brasil!
IPCA vai a 0,33% em dezembro e fecha 2025 em 4,26%, abaixo da meta
TJ crava: desconto em conta salário é considerado indevido
Comer errado