Renata Luciana Moraes
Já é por todos nós sabido que está para ser aprovada a tão propagada Reforma Trabalhista, através do Projeto de Lei n. 6.797/2016. Essa reforma havia de ser, originalmente, uma medida provisória. Ainda que fossem absolutamente duvidosos, no caso, os requisitos constitucionais da necessidade e da urgência; no entanto, após a contrariedade externada pelas centrais sindicais, entendeu-se por bem encaminhar o projeto para o Poder Legislativo Federal, como naturalmente decorre do artigo 22, I, da Constituição. Nada obstante, pretende-se que tramite em regime de urgência, pois “O Brasil tem pressa”. Resta saber do quê.
O projeto traz diversas “novidades” que merecem a nossa consideração. No cerne dessa Reforma encontra-se a ideia da prevalência do negociado sobre o legislado em relação a diversos direitos sociais previstos na Constituição, na Consolidação das Leis do Trabalho e em outras leis federais, como a Lei n. 6.019/1974.
Esse artigo trata de considerar o papel que passará a ter as Convenções e os Acordos Coletivos de Trabalho, caso a reforma seja mesmo aprovada, conforme o texto original requer.
Importa-nos esclarecer, por um lado, que as convenções e os acordos coletivos de trabalho, que são os negócios jurídicos coletivos de caráter normativo previstos no artigo 611 da CLT (pelos quais “categorias econômicas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbito das respectivas representações, às relações individuais de trabalho”), ganham força de lei – e prevalecem sobre quaisquer outras leis − nos seguintes casos:
(a) parcelamento ou gozo de férias em até três vezes, com pagamento proporcional ao tempo gozado pelo trabalhador, sendo certo que uma das frações não poderá ser inferior a duas semanas;
(b) livre pactuação da forma de cumprimento da jornada de trabalho, desde que não ultrapassado o limite mensal de 220 horas;
(c) possibilidade de pagamento da participação nos lucros e resultados quando a empresa divulgar seus balancetes trimestrais ou no limite dos prazos estipulados em lei para tais balancetes, desde que seja feito em não menos que duas parcelas;
(d) horas “in itinere” ( o modo de compensação do tempo de deslocamento entre casa e trabalho nos supostos de ausência ou insuficiência de transporte público compatível);
(e) intervalo intrajornada de trinta minutos);
(f) a ultratividade dos instrumentos coletivos da categoria (o que significa que, afastada a inteligência da Súmula 277 do TST – como se deu, liminarmente, na ADPF n. 323, da relatoria do Min. Gilmar Mendes −, a ultratividade dos acordos e convenções coletivas deverá ser decidida unicamente no âmbito da autonomia privada coletiva, i.e., dos próprios acordos);
(g) a adesão ao “programa seguro-emprego”, da Lei n. 13.189/2015, que derivou do “programa de proteção ao emprego” (PPE) do governo anterior;
(h) o estabelecimento de plano de cargos e salários;
(i) o regulamento de empresa;
(j) o banco de horas, garantida a conversão da hora que exceder a jornada normal de trabalho (e não for compensada) com acréscimo de no mínimo 50%;
(k) o trabalho remoto;
(l) a remuneração por produtividade; e
(m) o registro da jornada de trabalho.
Tudo parece, portanto, extremamente adequado. Saem fortalecidos a democracia, o diálogo social, o movimento sindical e os direitos trabalhistas. Certo? Não tão certo assim, mas também, não de todo errado.
A funcionalidade das negociações coletivas guia-se por dois pressupostos básicos: em primeiro lugar, “quão mais rígida é a organização sindical, mais tormentosa é a negociação coletiva“; e o segundo, aquele segundo o qual “quão mais fortes e representativos são os sindicatos, menor é a necessidade de intervenção legislativa“. Daí que, a valer a máxima assim vertida – como, cremos, há de valer −, a ideia vazada no PL n. 6.797/2016, quanto à prevalência do negociado sobre o legislado em grande parte dos direitos trabalhistas típicos (para além do que textualmente autorizou a Constituição), seria muitíssimo oportuna e útil se, a rigor, o atual quadro sindical brasileiro apontasse para o predomínio de sindicatos fortes e representativos.
Agora a pergunta que não quer calar: É esse o caso? Infelizmente, não. E digo isso porque a organização sindical brasileira é extremamente rígida, haja vista o que preceituam os incisos II e IV do art. 8º da CF. E, também, porque a unicidade sindical construiu no Brasil uma estrutural sindical frágil e pouco representativa. Basta ver os números: apesar da unicidade, o Brasil tem mais de 15.000 sindicatos atualmente – muitos dos quais criados somente para arrecadar a contribuição sindical obrigatória do artigo 8º, IV, da Constituição − alcançando pouco mais de 17% dos trabalhadores ocupados; já na Alemanha, em que prevalece a pluralidade sindical, os sindicatos não ultrapassam a casa das dezenas, mas são muito mais representativos.
Já por isso, várias categorias profissionais brasileiras possuem sindicatos colaborativos ou mesmo “bancados” pelo empregador, sem qualquer compromisso com a classe laboral que tencionam representar. A essa figura denominamos de sindicalismo amarelo.
Sendo assim, será mesmo que serão esses os sindicatos a garantir, sob a égide do PL n. 6.797/2016, que a negociação coletiva represente avanços no patrimônio jurídico do trabalhador? Muito provavelmente, não.
Então o que seria necessário? Na minha singela visão, entendo que antes de qualquer reforma trabalhista, tal como a que está prestes a se tornar vigente, teríamos que realizar uma profunda Reforma Sindical, acabando, sim, com milhares e milhares de sindicatos que nada fazem, a não ser tomarem para si, o deprimente papel de chupins da arrecadação da contribuição sindical; acabar, sim, com a obrigatoriedade do recolhimento desta mencionada contribuição; acabar com a unicidade sindical e conscientizar sindicatos, empregadores e empregados que a economia social de mercado é a única saída para todos, inclusive para o país.
É bom entendermos que essa chamada "economia social de mercado" teve sua origem na Alemanha Ocidental do pós-guerra, que estava sob o governo democrata-cristão do chanceler Konrad Adenauer, e se manteve, desde então, como uma espécie de política de Estado.
Sebastian Dullien, economista do Conselho Europeu de Relações Exteriores, concorda que o consenso e cooperação estão presentes em todas as camadas da economia daquele, considerado o modelo mais sólido de economia do mundo. "No centro estão os sindicatos e os patrões, que coordenam salário e produtividade com o objetivo obter um aumento real dos rendimentos dos funcionários, além de manter os postos de trabalho". Ocorre que esse modelo não surgiu de um dia para o outro também naquele país. Ele está enraizado desde 1871, na unificação nacional, sob Birmarck.
Mas aqui no Brasil, as coisas têm sempre urgência urgentíssima, tudo é para ontem, sem que se possa amadurecer as ideias, analisar os pontos positivos e negativos. Discutir maduramente com a sociedade como um todo, e entender que somos um país e um povo que muito ainda precisa caminhar e sedimentar os conceitos mais básicos, a começar pela ética e honestidade.
Deixo claro aqui que sou sim, a favor da Reforma Trabalhista, mas não da forma como está sendo proposta. A meu ver, a urgência urgentíssima hoje é a Reforma Sindical, e após esta, com reestruturação e o amadurecimento dos Sindicatos, o prosseguimento dos demais pontos da reforma trabalhista.
RENATA LUCIANA MORAES – OAB/MT 13096-B, advogada responsável pelo Departamento Trabalhista no escritório Mattiuzo Mello Oliveira e Montenegro Advogados Associados.

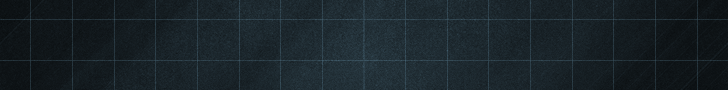












Ainda não há comentários.
Veja mais:
Operação da PM derruba tráfico de drogas em Várzea Grande
Vitória para Mato Grosso. Conquista para o Brasil!
IPCA vai a 0,33% em dezembro e fecha 2025 em 4,26%, abaixo da meta
TJ crava: desconto em conta salário é considerado indevido
Comer errado
PC confirma prisão de homem acusado de tentar matar mulher queimada
Feliz aquele que entendeu!
Preço médio das passagens aéreas cai 20% em novembro
Tribunal de Justiça: banco é condenado por golpe da falsa central
Megaoperação da PC mira tráfico de drogas em região de fronteira