"ANTES TARDE DO QUE NUNCA", já ensinava a vizinha gorda e patusca, personagem do inesquecível Nelson Rodrigues. As democracias ocidentais parecem ter finalmente despertado para o sério desafio da rivalidade das potências iliberais -- China, Rússia, Irã -- à sua segurança econômica, militar e política. A rapidez e a firmeza com que os Estados Unidos e seus aliados responderam à invasão russa da Ucrânia por meio de sanções econômicas e diplomáticas contra o regime de Vladimir Putin, paralelamente à assistência militar ao governo de Volodymyr Zelensky, surpreenderam até mesmo os mais céticos e calejados analistas internacionais.
Na verdade, essa inflexão estratégica começou um pouco antes, quando os líderes do Ocidente afinal perceberam que a integração dos regimes de Pequim e Moscou aos benefícios do mercado globalizado jamais trariam como corolário político sua plena liberalização em moldes pluralistas competitivos. Nem o monopólio de poder do Partido Comunista Chinês, encabeçado por Xi Jinping, seu secretário-geral e presidente da República Popular da China, nem o condomínio político da oligarquia russa chefiada por Putin são ´negociáveis'.
Ao mesmo tempo, regimes representativos, de um jeito ou de outro, precisam se curvar às variações da maioria da opinião pública. Pesquisa do instituto Pew, dos Estados Unidos, realizada no ano passado, aponta que 75% dos seus entrevistados asiáticos, europeus e norte-americanos não confiam na capacidade de Xi comportar-se "normalmente" nas relações internacionais ou respeitar os direitos humanos dos chineses. Sondagem anterior (2020) do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, sediado em Washington, D.C., revela que igual porcentagem das elites de política externa naqueles mesmos países acredita que a melhor maneira de lidar com a China e com os demais regimes capitalistas autoritários consiste em construir uma aliança de nações democráticos.
Hoje, nos Estados Unidos, politeia sabidamente polarizada quanto a uma série de questões étnicas, culturais e socioeconômicas, o sentimento antichinês (e agora também antirrusso) sobressai como raro consenso bipartidário. Políticos da União Europeia passam a encarar a China como 'rival sistêmico'. E, na Coreia do Sul, a imagem da RPC é mais impopular que a do antigo invasor japonês. Má-vontade? Paranoia?? Exagero??? Nem tanto, se levarmos a sério declarações como a do primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, em momento de rara sinceridade, ao ex-assessor-chefe de Segurança Nacional dos Estados Unidos general Herbert Raymond McMaster, em 2017. Na visão de Li sobre a emergente ordem mundial do século XXI, no futuro o papel dos demais países do mundo seria prover o ressurrecto Império do Centro de alimentos, matérias-primas e energia, em troca de produtos chineses de alta tecnologia.
Um atento estudioso da atual inflexão é o professor Michael Beckley, cientista político da Tufts University, em Massachusetts; pesquisador-sênior do American Enterprise Institute, think tank conservador da capital dos Estados Unidos; e autor de Unrivaled: Why America Will Remain the World's Sole Superpower (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2018). Em artigo sugestivamente intitulado "Enemies of my enemy" para Foreign Affairs de março/abril de 2022, ele enumera várias iniciativas recentes de 'geometria variável' (multi e minilaterais) destinadas a fortalecer a cooperação ocidental em face do desafio das grandes potências iliberais no marco de uma nova ordem sinocêntrica. É o caso, por exemplo, da Parceria de Resiliência Competitiva Estados Unidos-Japão em apoio a parcerias na área de Pesquisa & Desenvolvimento. No âmbito do G-7, o "Build Better World" e. no da União Europeia, o "Global Gateway" são programas de financiamento à infraestrutura dos países em desenvolvimento como alternativa à Nova Rota da Seda chinesa ("Um Cinturão, uma Rota"). Países Baixos, Coreia do Sul, Taiwan e Estados Unidos articulam-se para restringir as exportações à China de semicondutores e das máquinas que os fabricam.
Austrália, Canadá, Dinamarca, França, Noruega, Reino Unido e Estados Unidos estão juntos na Iniciativa de Controles de Exportações e Direitos Humanos, a fim de impedir que ferramentas de reconhecimento facial e linguístico sejam colocadas a serviço do autoritarismo digital chinês e seus aliados. Austrália, Índia e Japão estão agora unidos em uma Iniciativa de Resiliência das Cadeias de Suprimento, que incentiva empresas de tecnologia de informação dos países-membros a transferirem suas operações para fora da China, fugindo das sistemáticas violações à propriedade intelectual praticadas sob a complacência das autoridades de Pequim. Aquele trio de nações, ao lado dos Estados Unidos, integram o Quad -- Diálogo de Segurança Quadrilateral --, fundado em 2007 e reativado dez anos mais tarde, o qual objetiva conter o expansionismo econômico e militar chinês na região Indo-Pacífico. Presentemente, o Quad estuda propostas de incorporação de mais dois países ameaçados pela ascensão do hegemonismo chinês: Coreia do Sul e Taiwan. Com objetivo semelhante, surgiu, em 2021, mais um pacto militar regional: o AUKUS (Austrália, Reino Unido e Estados Unidos), discutido em artigo anterior de minha autoria, "A Anglosfera Reage".
No caminho aberto pela liderança norte-americana, a Europa procura se aproximar da Índia e do Japão aproveitando o esfriamento das relações desses dois últimos com a China. Há poucos dias, duas altas autoridades da UE -- Charles Michel, presidente do Conselho Europeu (articulação dos chefes de Estado ou de governo com a missão de definir as prioridades políticas do bloco; e Ursula von der Leyen, presidente da Comunidade Europeia (órgão executivo supranacional da União) -- visitaram Tóquio, na primeira viagem conjunta da dupla à Ásia do Pacífico desde a irrupção da pandemia da Covid19, para participar de uma conferência de cúpula nipo-europeia, com o primeiro-ministro japonês Fumio Kishida.
O Japão, ao lado de Singapura e Coreia do Norte, associou-se às sanções norte-americanas e europeias contra a Rússia desde o início da guerra na Ucrânia. Para sua primeira viagem à Asia como chefe do governo alemão, o chanceler Olaf Scholz (social-democrata) também escolheu como destino o Japão, em marcante contraste com sua antecessora democrata-cristã, Ângela Merkel, que cultivava estreitos laços com a China. Scholz teve o cuidado de não criticar explicitamente o regime de Pequim, preferindo destacar a necessidade das empresas alemãs de diversificar suas parcerias internacionais, de modo a diminuir a dependência em relação às cadeias de suprimento de um único país, sobretudo depois do desencadeamento da crise ucraniana.
Antes de viajar a Tóquio, Von der Leyen participou de um evento de política externa, em Nova Delhi, capital da Índia, oportunidade em que criticou a declaração conjunta Putin-Xi anunciando uma "amizade ilimitada" entre Rússia e China, na visita do presidente russo a Pequim por ocasião da abertura dos jogos olímpicos, apenas alguns dias antes da invasão da Ucrânia. Desde sua independência, a Índia construiu sólido relacionamento com a antiga União Soviética, que lhe forneceu grande variedade de armamentos, que continuam a ser vendidos pela Rússia de Putin. E o governo do premiê Narendra Modi, a despeito das pressões ocidentais, absteve-se de condenar, nas Nações Unidas, a invasão russa.
Ocorre que Nova Delhi mantém com Pequim um interminável contencioso territorial envolvendo suas fronteiras no Himalaia (há pouco menos de dois anos morreram ali vinte soldados indianos e quatro chineses em choques homem a homem), e os Estados Unidos consideram a Índia peça fundamental do Quad na contenção da China. O governo francês também busca intensificar suas relações navais com a Índia, sobretudo depois que, com o anúncio do AUKUS, os australianos suspenderam uma suculenta encomenda de submarinos da França. Um indubitável gesto indiano em direção à UE foi a decisão de abrir uma embaixada na Lituânia, membro do bloco que ora enfrenta embargo comercial chinês.
Beckley, no referido artigo, recorre aos ensinamentos da História para explicar toda essa nova dinâmica de ação-reação. Na Antiguidade, o temor inspirado pelo poderio militar de Cartago manteve unida a República de Roma, no século XVII, as monarquias europeias puseram fim à Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), celebrando a Paz de Westfália, que reafirmou a soberania desses reinos ante as pretensões hegemônicas da Igreja Católica e do Sacro Império Romano-Germânico. Depois, pelo Tratado de Utrecht (1713), uma aliança de Estados liderada pelo Grã-Bretanha limitou o expansionismo da França de Luís XIV. Em 1815, as monarquias conservadoras do continente europeu aliadas, novamente, aos britânicos puseram fim à era das conquistas napoleônicas estabelecendo uma concertação diplomática e militar que garantiu uma paz de cem anos, só sepultada pela eclosão da Primeira Guerra Mundial (1914-1918). E, após a Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos e seus aliados da Europa ocidental arquitetaram um sistema de cooperação econômica e militar (Plano Marshall; Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, embrião da Comunidade, depois União, Europeia; Organização do Tratado do Atlântico Norte-Otan) que foi capaz de conter o expansionismo da União Soviética até a implosão do império comunista sob o peso de suas próprias contradições.
Nas décadas seguintes, a ordem liberal de comércio e investimentos, sempre apoiada no protagonismo econômico e militar dos Estados Unidos e mais fortalecida do que nunca, acolheu o capitalismo de Estado -- ou socialismo de mercado?! -- da China pós-Mao Tsé-tung e deu boas-vindas à Rússia pós-soviética, na expectativa de que, à falta de alternativas viáveis ao regime concorrencial de propriedade privada, essas duas potências acabariam se convertendo às regras da democracia liberal. Não passaria muito tempo até que esse erro de avaliação se tornasse evidente. Agora, contra o pano de fundo da tragédia ucraniana, norte-americanos, europeus e japoneses despertam para o desafio de uma nova guerra fria entre as democracias representativas, de um lado, e os regimes iliberais, de outro. Um confronto, sob certos aspectos, mais complexo e incerto do que a Guerra Fria original, com iniciais maiúsculas, quando o 'inimigo' -- a União Soviética -- era muitíssimo menos entrelaçado com o sistema tecno econômico mundial do que a República Popular da China de hoje em dia.
Paulo Kramer é cientista político e especialista da Fundação da Liberdade Econômica.

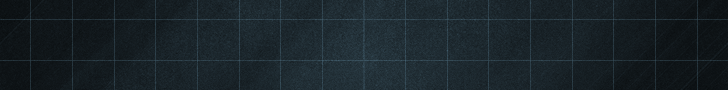
















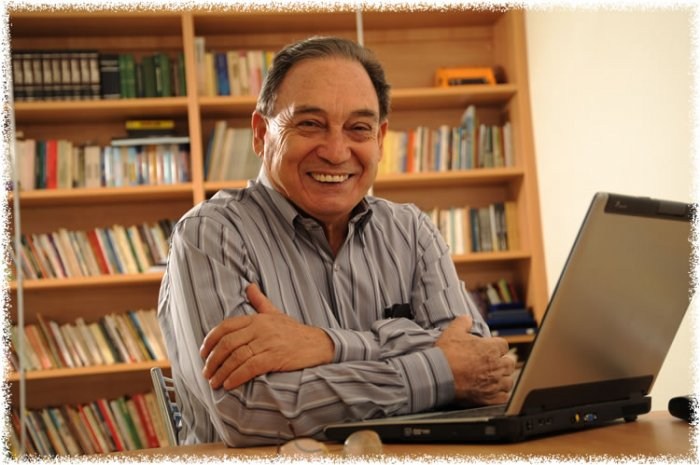




Ainda não há comentários.