O viver democrático jamais foi tarefa fácil. Não é a primeira vez que isso é dito nesta coluna. Repetida por vezes, até para que saiba da sua real dimensão. Realidade, porém, imperceptível por muitos. Justamente os que se autocolocam como “paladinos da democracia”. “Paladinos” de algo que nunca chegaram a ser. Embora estufem o peito, postam a voz, e bradam em favor da democracia.
No exato instante em que fazem de um tudo para tornarem suas vontades ou desejos regras para todos. Com isso, e este é um de seus grandes erros, implantarem o discurso único. Discurso este que mata com o processo democrático, além de ignorar o verdadeiro caráter de uma sociedade, o de ser plural. Pluralidade, uma vez impedida de ser manifesta, torna-se um vulcão em erupção.
Suas lavas correm, sem hesitação, ou acanhamento, ainda que as antecipe por atalhos, pois nada podem para-las, ou estanca-las. Incapazes em detê-las foram às ditaduras, mesmo que estas tivessem êxitos por certo tempo, mas não por tanto, nem muito. Vozes, dos calabouços e dos porões feitos de prisões, fizeram-se ouvir. Ouviram-nas, e deram-lhes coro, cujos ecos deslizaram-se pelos corredores e saíram portas-afora. Tanto que abafaram o cântico dissonante da censura. Prevaleceu o todo. Todo formado pela soma dos singulares.
Houve festas. Raiava o dia. Claridade que ofuscou o olhar desmedido, que se recolheu, porém vigilante, em busca de uma brecha, longe dos raios solares, novamente a despontar, e despontou, via legal e representativa. Sucederam-se os ataques à ordem, as regras, ao estatuto e as instituições. Não nesta ordem. Mas se deram. Aplaudidas.
As instituições sentem-se tal como a um pugilista preso as cordas, nocauteadas. Fragilizadas. Situação reveladora. Revela o quão são frágeis. O que desmorona a tese de que elas, as instituições, são fortes e resistentes. Não as são. Nem poderiam sê-las. Tampouco seria a democracia, com o alicerce assentado em terreno alagadiço, ou arenoso. Desmorona a qualquer vento, sem precisar ser uma ventania. Deixam, então, de cantar os sabiás, desaparece o coaxar, somem da praia as marcas dos pés da gaivota, e a cotovia, não mais anuncia o nascer do novo dia. Céu carrancudo. Nada da lua, mesmo ao anoitecer.
A liberdade se vê em xeque-mate. Partida por terminar. Resta apenas a jogada final. Silêncio tenebroso. Nenhuma luz. Esmorece a esperança. Fortalecem as chamas acesas da intolerância. Cresce a violência. Sem reação, o Estado também desfalece, ainda que negado essa sua condição por quem se tem como causador de sua dor, de seu sofrimento. Irreparáveis são as perdas. Perdas que se somam as de Covid-19. Feridas não cicatrizáveis. Bálsamo não adiantou.
A democracia agoniza em leito fúnebre. Cobriram-na com um véu. Não por estar moribunda. Mas por quererem impedi-la de respirar. Quase não se ouve mais o seu inspirar e o respirar. Exercício necessário. Ignorado, contudo. Um redemoinho varre a primavera. A flor perde o seu brilho. Fica sem produzir o néctar. O beija-flor entra em depressão. Lá do alto da árvore desfolhada, o João-Barros vê sua casa vazia. Vazia de vida e de felicidade. A morte se avizinha. Ao bater a porta, adentra-se, e ataca. O atacado é privado das sensações.
Laudos são forjados. Forjam-nos para evitarem as especulações a respeito das causas da morte. Estabelece a taciturnidade. O pássaro da melancolia faz seu ninho. Agasalhados, urubus da intolerância se assanham. Sobrevoam, e cortam o ar. Ninguém ousa se manifestar. Nem deve. Evita ser a próxima vítima. Uma voz, rouca e desconexa, passa a ditar as regras. Não há mais liberdade. O ataúde da democracia é lacrado. Não tem outro jeito. Esvai-se um viver. É isto.
Lourembergue Alves é professor universitário e analista político.

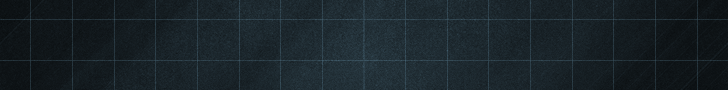

















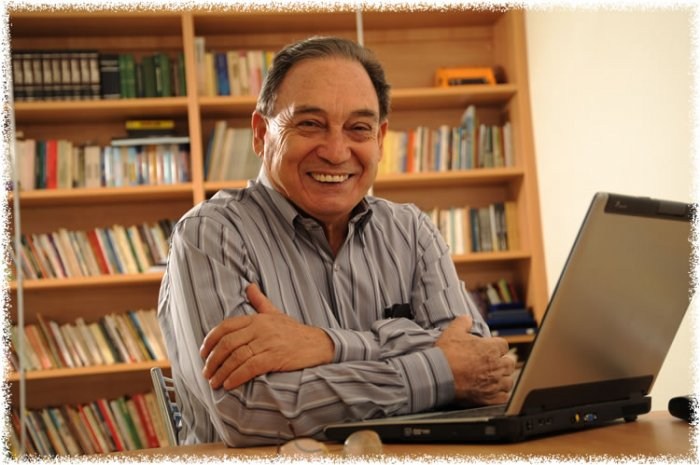


Ainda não há comentários.