Garoava initerruptamente. Há um tempão. Esparramado a cama, Luís ouvia as batidas dos pingos no telhado. Barulho suave, melodioso. Era uma daquelas canções que embalava a alma. Fazia-a viajar por ondas, sempre em zigue-zague, conduzidas por nuvens prenhes de uma paz, tranquilidade. Condição de quem estivesse despreocupadamente estirado a rede, armada à varanda, cuja casa fora erguida em uma área plana, cercada por um gramado espesso, onde acabara de cair o orvalho da noite, o que inundou o ar de um perfume adocicado.
Um sorriso brotou entre os lábios dele. Instante em que o sono o pegava de jeito, e o levou pelo caminho dos sonhos. Sonhou, então, que vivia em um país do faz-de-conta, diferente dos demais, distinto do até agora vivido. Embora se estranhasse por demais do usufruído. Mesmo assim nada dissera.
Talvez porque nada teria a dizer. Isto porque o tribunal do lugar, provocado que fora pelo maioral, decidira qual seria a data “marco da democracia”. Ao ser decidido, cabiam aos demais cidadãos, ainda que discordasse da decisão, apenas o cumprimento do decidido. Embora o tal “marco” representasse bem outra situação. Jamais, na verdade, o que estaria por comemorar.
Afinal, o comemorado emperrou o debate, construiu barragens para represar as águas correntes da liberdade, e liberou o forte vento da opressão, repressão, além de adotar a censura com o fim de calar, silenciar quem lhes opunham, e, quando era preciso, nos porões, quebrava-se o silêncio pela tortura, cujos autores se passaram por heróis, em um processo de completa inversão de valores, enquanto se forjava laudos e manipulava dados pretéritos e presentes, com a ação perniciosa da polícia política, cujos rastros ainda continuam vivos na areia movediça de todas as formas de ditadura.
Ditadura “vendida”, pelos deturpadores, como o “melhor dos mundos”. Foi assim em vários lugares, inclusive no país sonhado. De repente, um estrondo, depois outro, e, por fim, um terceiro. Rangia a madeira.
Luís se mexia. Parecia apavorado, a exemplo de quem estava se afogando, ainda que não o visse no próprio sonho, a menos que o ego se recusasse a aceitar o olhar do inconsciente, ou, como diria Freud, o desejo cega, embora também o faça ver, porém estava longe de ser este o caso de Luís, que não mais tossia, tampouco falava, o cenário de seu sonho passou a ser outro, distinto do primeiro, em um salão, com característica de refeitório, lotado, e de mesas fartas: toneladas de filé mignon, quase igual quantia de salmão, sete centenas de picanha, acompanhadas de oitenta mil cervejas, garrafas de uísques 12 anos e centenas de litros de conhaque. Enorme banquete. Tudo do bom e do melhor.
Mesmo assim, havia os que reclamavam. Reclamavam, ainda que sem razão, pois nada se tinha para tanto, uma vez que o reclamado estava por demais de bom, pelo menos da grande maioria. Poucos eram os convidados. E os que estiveram presentes, comeram e beberam. Saciaram os desejos, as vontades. Esbanjaram. Desperdiçaram, sem ter que pagar a conta. Conta salgada. Caía nas costas de quem, sequer, tinham acessos ao dito salão, só convidados para contribuir com a “vaquinha”, a mesma que bancava a refeição solene e pomposa.
Em meio à exuberância e o viço, Luís parecia despertar-se do sono, que o deixou por horas largado na cama, e preso a um sonho que mais parecia um pesadelo, uma vez que o fizera se perder no centro do país, cujo passado de lembranças se prendia a um dos quartos da casa vazia. Vazia de presenças, pois a pandemia impedia as visitas de filhos antes frequentes, enquanto aguardavam pelo auxílio emergencial, apesar de pouco, necessário. É isto.
Lourembergue Alves é professor universitário e analista político.










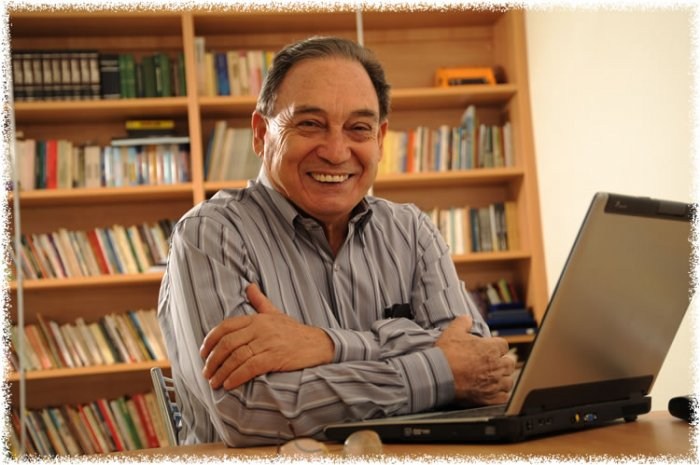













Ainda não há comentários.