Do Portal Congresso em Foco
A Constituição Federal de 1988 completa 37 anos neste domingo (5) em meio a um cenário político em que sua elaboração, seus efeitos e suas alterações voltam a ser discutidos. O texto promulgado em 5 de outubro daquele ano encerrou o ciclo formal de transição do regime militar para a democracia e instituiu uma nova ordem institucional baseada na garantia de direitos, participação popular e reorganização do Estado. Foi a primeira Constituição elaborada sob regime democrático desde 1946 e a sétima da história do país.
O caminho até a nova Carta começou ainda antes da Constituinte. Em 1985, o presidente José Sarney instituiu a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais, formada por 50 integrantes e presidida por Afonso Arinos de Melo Franco. O grupo apresentou um anteprojeto em setembro de 1986, que, embora não tenha sido oficialmente encaminhado ao Congresso, serviu de referência ao processo que se seguiria. A Assembleia Nacional Constituinte foi instalada em 1º de fevereiro de 1987, reunindo 559 parlamentares - 487 deputados federais e 72 senadores - eleitos no ano anterior.
O debate seguiu um modelo dividido em etapas e fases. Em 19 de março de 1987 foi aprovado o Regimento Interno, que organizou os trabalhos em subcomissões temáticas, depois em comissões temáticas e, em seguida, na Comissão de Sistematização. Ao todo, 24 subcomissões redigiram os primeiros textos, encaminhados depois a oito comissões.
Os anteprojetos foram reunidos em um texto único preliminar, revisado pela Comissão de Sistematização, que teve Afonso Arinos como presidente. A intensificação do debate se deu ao longo de 20 meses, com votações sucessivas.
Em 2 de setembro de 1988, o presidente da Assembleia, Ulysses Guimarães, anunciou o encerramento das deliberações sobre o projeto constitucional. Em 22 de setembro, aprovou-se a redação final. A sessão de promulgação ocorreu em 5 de outubro, às 15h50, no plenário da Câmara dos Deputados.
Participação popular em escala inédita
A participação social foi um dos traços marcantes do processo. Durante cinco meses, cidadãos e entidades apresentaram sugestões por meio de formulários distribuídos pelos Correios. Foram 5 milhões de exemplares, que resultaram em 72.719 propostas enviadas por indivíduos, além de cerca de 12 mil sugestões oriundas de entidades e dos próprios constituintes.
Também foram admitidas emendas populares, desde que assinadas por pelo menos 30 mil eleitores e apresentadas por ao menos três entidades representativas. Esse mecanismo resultou em 122 emendas formalizadas, algumas das quais acabaram incorporadas ao texto final.
Movimentos sociais, sindicatos, pastorais, associações profissionais e organizações indígenas participaram de audiências públicas e pressionaram pela inclusão de direitos trabalhistas, de garantias fundamentais e de reconhecimento de identidades e territórios.
Direitos que redefiniram a relação entre Estado e cidadão
A nova ordem constitucional ampliou direitos sociais, políticos e individuais. Na saúde, criou-se o Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo o atendimento integral e universal como dever do Estado. Na educação, a Constituição determinou que o ensino fosse garantido inclusive a quem não teve acesso na idade adequada, estendeu a obrigação para áreas rurais, incentivou a inclusão de pessoas com deficiência e assegurou o atendimento escolar diferenciado a povos indígenas. O texto também atribuiu ao Estado a obrigação de assegurar o acesso à cultura e proteger manifestações tradicionais, populares, afro-brasileiras e indígenas.
No campo do meio ambiente, um capítulo específico reconheceu a importância da biodiversidade, estabeleceu a exigência de avaliação de impacto ambiental para obras e abriu espaço para legislações futuras, como a Lei das Águas e a Lei de Crimes Ambientais. A defesa do consumidor ingressou no rol de direitos fundamentais, com previsão de elaboração de um código específico. O direito de iniciativa popular legislativa foi incorporado, permitindo que projetos de lei sejam apresentados com respaldo de, no mínimo, 1% do eleitorado nacional.
As garantias fundamentais do artigo 5º
O artigo 5º consolidou garantias civis e políticas. Entre elas, a igualdade entre homens e mulheres, a criminalização do racismo como prática inafiançável e imprescritível, a proteção à liberdade de expressão, a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, a liberdade de crença, a vedação à tortura e ao tratamento degradante, a proibição da pena de morte e a garantia do devido processo legal. Também assegurou assistência jurídica gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o sigilo da fonte no trabalho jornalístico e o acesso à informação.
Reorganização institucional e fim das restrições políticas
A Constituição de 1988 restabeleceu o voto direto para presidente, governadores e prefeitos de capitais, fortaleceu o Ministério Público, redefiniu competências da União, dos Estados e dos municípios e reorganizou o Judiciário. Incorporou licenças previdenciárias como a paternidade, antes inexistente, e estabeleceu regras para busca e apreensão somente com autorização judicial.
A sessão que marcou a promulgação
A sessão de promulgação foi marcada por rituais institucionais, presença de autoridades estrangeiras e discursos de Afonso Arinos, Victor Crespo e Ulysses Guimarães. A data foi marcada por chuva em Brasília, e eventos previstos ao ar livre foram transferidos para espaços internos. A cerimônia começou pouco depois das 15h30. Às 15h50, Ulysses Guimarães declarou promulgada a Constituição e ergueu o exemplar original. Em seguida, os constituintes e autoridades juraram manter e cumprir o texto.
As mudanças introduzidas pelas emendas constitucionais
Desde então, a Constituição já recebeu mais de 130 emendas, além de seis emendas resultantes da revisão constitucional de 1994. Algumas modificaram aspectos centrais da ordem econômica, previdenciária e institucional. Em 1997, a Emenda Constitucional nº 16 autorizou a reeleição para cargos do Poder Executivo. Em 1998, a Emenda nº 20 alterou regras da Previdência e fixou novas exigências para aposentadorias. Em 2003, a Emenda nº 41 redefiniu cálculos de pensões e contribuições do funcionalismo público.
Em 2019, a Emenda nº 103 promoveu uma nova reforma previdenciária, instituindo idade mínima para aposentadorias e outras mudanças estruturais. Em 1998, a Emenda nº 19 fez ajustes na administração pública e no regime de servidores. A Emenda nº 45, de 2004, reestruturou o Judiciário.
Em 2010, a Emenda nº 66 simplificou o divórcio, e em 2013 a Emenda nº 72 ampliou os direitos trabalhistas das empregadas domésticas. Em 2016, a Emenda nº 95 estabeleceu um teto para os gastos públicos federais por 20 anos. Mais recentemente, a reforma tributária aprovada em 2023, por meio da Emenda nº 132, alterou a estrutura de impostos sobre consumo.
Como a Constituição de 1988 trata a anistia
O debate sobre anistia voltou à cena política diante de propostas que buscam perdoar participantes dos atos de 8 de janeiro de 2023. O tema tem trajetória longa na história constitucional brasileira e foi regulamentado de maneiras diferentes ao longo das sete Constituições promulgadas desde o Império. A atual Carta estabeleceu parâmetros específicos para o instituto, vinculados à legislação e às competências dos Poderes.
A Constituição de 1988 trata diretamente do assunto em três frentes. No artigo 5º, inciso XLIII, determina que não podem ser objeto de anistia, graça ou indulto os crimes considerados inafiançáveis, como tortura, terrorismo, tráfico de drogas e crimes hediondos. O artigo 21, inciso XVII, atribui à União a competência para conceder esse tipo de medida, enquanto o artigo 48, inciso VIII, define que cabe ao Congresso Nacional legislar sobre anistia, com sanção do Poder Executivo.
Além dessas previsões, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias incluiu um dispositivo específico sobre o tema. O artigo 8º concedeu anistia a pessoas alcançadas por punições motivadas por razões políticas entre 1946 e 1988, permitindo a reintegração e a recuperação de direitos funcionais. A medida abrangeu civis e servidores punidos nesse período, com exceção de casos relacionados aos Ministérios militares.
O debate recorrente sobre uma nova constituinte
O debate sobre a realização de uma nova constituinte reaparece em contextos de disputa institucional. Ao longo dos últimos anos, diferentes atores políticos sugeriram mudanças profundas ou a convocação de uma nova Assembleia. Entre as justificativas, aparecem críticas à extensão do texto constitucional, à judicialização de conflitos e à rigidez de algumas normas. Por outro lado, há receio de que uma revisão ampla possa suprimir direitos sociais e garantias individuais. As propostas já surgiram tanto em discursos de representantes do Executivo quanto em debates acadêmicos e parlamentares, mas não avançaram institucionalmente.

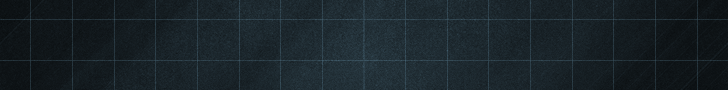












Ainda não há comentários.
Veja mais:
Megaoperação da PC mira tráfico de drogas em região de fronteira
Em Rondonópolis: Operação apreende 73 kg de supermaconha
Polícia prende no RJ suspeito de matar sargento em MT
Por uma bússola moral para o País
Aposentados têm até 14 de fevereiro para pedir ressarcimento ao INSS
TJ acata argumento de arrependimento de empréstimo
Nova lei facilita atualização patrimonial no campo
A saúde pública começa na farmácia!
PC: homem é preso acusado de ameaçar ex-mulher e familiares
Sancionada lei que proíbe descontos em benefícios do INSS