A filosofia prática de Kant tem servido, mesmo nos tempos modernos, como fonte de referência quando se trata de liberdade individual como autonomia moral.
A liberdade jurídica, ao contrário da individual como autonomia moral, tem no Estado seu garantidor; pode-se afirmar, controlador e coordenador. Os limites da liberdade jurídica estão bem delineados normativamente num processo que se exterioriza através da legitimidade das instituições que as criam.
Na autonomia moral, o sentido de liberdade individual se conforma longe do aparato institucional; portanto, culturalmente. A “consciência moral” é o estágio momentâneo “num processo individual de verificação no qual ainda não se percebeu que o próprio ponto de vista há muito assumiu a forma da realidade social” (Axel Honneth, O Direito da Liberdade).
Ainda no século XVIII, Kant sustentou que a verdadeira liberdade do homem está na submissão à lei moral que se considere correta e racional. Para isso, estabelece dois momentos na ação do sujeito moral: a autodeterminação e na máxima de que se deve tratar os outros como deseja ser tratado por eles.
Na autodeterminação, o dever é vencer as paixões e vontades, não dar espaço para os impulsos naturais. As ações devem ser determinadas racionalmente. Esta, combinada com o tratamento a ser dispensado aos outros sempre se ostentado na reciprocidade, dão ao sujeito moral o necessário à liberdade. Ser livre é obrar em correção nas ações, enfim.
Feito esses esclarecimentos, em lugar algum na política eleitoral ou no sistema de Justiça cabe aceitar que os fins justifiquem os meios, em que pese Maquiavel.
Não será um homem ou uma mulher livre se não houver correção nas ações, em especial àqueles que a ela são legalmente obrigados. Nunca haverá paz numa consciência invadida por ignorância e erros. Sempre estará a castigar seu portador. De Thomas Jefferson: o preço da liberdade é a eterna vigilância. E a vigilância começa no particular, em si próprio.
Na atividade política, dada as constantes “políticas públicas” negativas sob o ponto de vista legal e administrativo, seus executores não observaram a devida correção nas ações, o que acaba por levar os inconformismos ao Judiciário, que também nem sempre está aparelhado, tanto em recursos humanos (com conhecimento técnico e político, assim como nas ciências humanas e sociais) quanto em estrutura, para bem solucioná-las.
Isso gera, inevitavelmente, uma crise de legitimidade das decisões judiciais, posto que, em princípio, tais demandas são afetas aos outros dois poderes da República, eleitos diretamente pelo sufrágio popular.
A propósito, o americano Bruce Acherman, afirmando a existência do princípio da dualidade democrática, resolve a questão de legitimidade indagando: a questão posta é de política normal ou de política constitucional? Explico.
Para o professor da Yale Law School, a “política normal” consiste na situação mais comum na prática da comunidade, caracterizada pelo baixo índice de participação na tomada de decisões do Estado.
Ao contrário, na “política constitucional”, o cidadão mostra sua concordância com princípios que sejam parte dos compromissos constitucionais básicos da comunidade. Neste caso, o não fazer ou o fazer por parte do Estado acarretará legitimidade por parte dos juízes na imposição da norma de regência.
Hoje, a democracia e seus predicados impõem mais responsabilidades, inclusive quanto ao preparo intelectual e correção, na quadra judicial. Um Judiciário hermético não sobreviveria às exigências de uma sociedade mais vigilante e consciente de seu papel político. O constitucionalismo moderno, especialmente a filosofia do Direito, ainda renderá as devidas homenagens a Kant e sua teoria da autonomia moral, provando que o clássico nos é inspirador.
Gonçalo Antunes de Barros Neto é professor de Filosofia e apresentador do MAGISTRATURA E SOCIEDADE da ESMAGIS/MT, magistrado (email: bedelho.filosofico@gmail.com).

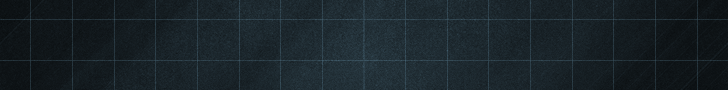












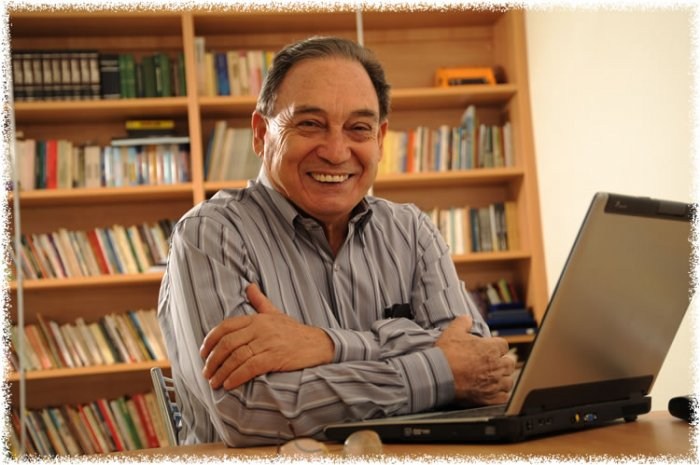






Ainda não há comentários.