Há um tipo de fé que acalma a consciência e organiza a vida sem exigir mudança. Ela dá uma sensação de “paz”, mas muitas vezes é só anestesia. É a fé como refúgio emocional e social: abençoa a ordem estabelecida, convive bem com o prestígio e consegue até fazer caridade — contanto que essa caridade não vire pergunta, denúncia ou conflito. Essa espiritualidade funciona como um acordo silencioso: Deus me consola, eu não mexo no mundo. E exatamente aí o Evangelho de Jesus entra como paradoxo vivo, quebrando a serenidade artificial.
O Cristo do Evangelho não foi um mestre domesticado pela religião. Ele não veio para decorar a vida de ninguém com frases bonitas. Ele andou no chão de terra, tocou feridas, enfrentou hipocrisias, denunciou injustiças e se aproximou de quem era descartado. O chamado de Jesus ultrapassa o altar e atravessa a rua. Por isso, quando a fé se torna corpo — gesto, escolha, renúncia, justiça — ela deixa de ser só “religião” e passa a ser seguimento. E seguimento, no mundo real, raramente é confortável.
Por isso também a história é cheia de gente que pagou um preço por viver com coerência. Martin Luther King Jr., Irmã Dorothy Stang, Dom Hélder Câmara, Frei Tito, Dom Pedro Casaldáliga, Madre Teresa de Calcutá, São Francisco de Assis e, em nossos dias, Padre Júlio Lancellotti, são sinais vivos de que o Evangelho, quando levado a sério, incomoda. Não são “santos de vitrine”; são testemunhas de uma fé que desceu do pedestal e se misturou ao barro humano.
Martin Luther King Jr. transformou oração em ética pública. Sua defesa não violenta dos direitos civis mostrou que “amor ao próximo” não é sentimento privado; é força coletiva, capaz de tocar na ferida racial de uma nação e expor privilégios. E o sistema respondeu como sistemas injustos respondem quando se sentem ameaçados: com violência. A bala que o matou tentou matar também a ideia de que o amor pode ser resistência organizada.
Na Amazônia, Dorothy Stang fez o que o Evangelho sempre faz quando encarna: escolheu os pobres e a terra contra a engrenagem que transforma vida em lucro. Num contexto onde “progresso” frequentemente significa grilagem, expulsão e morte, ela se tornou um obstáculo. A fé só é tolerada enquanto não interferir nos negócios. Quando a fé vira presença concreta ao lado dos invisíveis, ela se torna perigo para quem lucra com o silêncio. Dorothy foi assassinada por tornar real o que muita gente prefere manter simbólico.
Dom Hélder enfrentou outra forma de perseguição: o silêncio imposto. A ditadura descobriu que não precisava transformá-lo em mártir público se pudesse simplesmente negar-lhe voz. Ele revelou um mecanismo central do poder: o sistema aceita a compaixão que alivia a dor sem questionar suas causas, mas rejeita a justiça que pergunta “por quê?”. Sua frase atravessa décadas como um diagnóstico: “Quando você dá comida ao pobre, chamam você de santo. Quando pergunta por que ele não tem comida, chamam você de comunista”. Ou seja: caridade sem pergunta é tolerável; justiça com pergunta é perigosa.
Frei Tito, no ponto mais sombrio, expôs a violência como pedagogia do medo. A tortura não é só um ataque ao corpo; é tentativa de destruir a dignidade, de quebrar a pessoa por dentro e espalhar uma mensagem pública: “não ouse resistir”. Quando o poder chega a esse nível, não quer apenas vencer um adversário; quer impedir que alguém volte a acreditar que é possível enfrentar a máquina sem se tornar cúmplice dela.
Dom Pedro Casaldáliga viveu como profecia a céu aberto: um bispo que escolheu a simplicidade e a defesa radical dos pobres, dos povos indígenas e dos trabalhadores, num país marcado por concentração de terra e violência rural. Ele pagou com perseguição, vigilância e ameaças o preço de não se acomodar. Casaldáliga mostrou que a autoridade cristã não é título, é serviço — e que a Igreja, quando se alia aos vulneráveis, inevitavelmente colide com os donos do mundo.
Madre Teresa de Calcutá, por outro caminho, revelou que a cruz também é estar onde ninguém quer estar: junto dos doentes, moribundos e abandonados. Sua vida foi um escândalo silencioso contra a sociedade que descarta os fracos. Ela lembrava, com o corpo, que dignidade não depende de utilidade, e que o amor verdadeiro não escolhe pessoas “rentáveis”. Sua simplicidade desmascara nossa vaidade: a gente ama muito “em tese”, mas recua quando o amor exige presença.
São Francisco de Assis é talvez o símbolo mais direto do Evangelho sem maquiagem: renúncia ao acúmulo, escolha da pobreza, fraternidade com a criação e identificação com os rejeitados. Ele desmonta, até hoje, a mentira de que riqueza é sinal de superioridade moral. Francisco mostra que a liberdade nasce quando a pessoa deixa de ser possuída pelas coisas — e passa a viver com o necessário, com alegria e humildade. Ele é uma acusação viva contra o cristianismo que virou status.
E, no Brasil de agora, Padre Júlio Lancellotti se tornou uma espécie de retrato atual do que significa “descer do altar”. Sua presença constante com a população em situação de rua, sua insistência em chamar os invisíveis pelo nome e afrontar políticas de higienização social incomodam porque expõem uma ferida que muitos preferem ignorar. Ele desmascara o “Evangelho de conveniência” que ama o discurso sobre pobres, mas rejeita o pobre real. Seu ministério lembra que Jesus não foi encontrado nos palácios, e sim nas margens.
Essas trajetórias desnudam a contradição fundamental entre a lógica do conforto e a lógica da cruz. O conforto busca autopreservação, reputação, aceitação, conforto material, prestígio. A cruz exige verdade, risco e coerência. O conforto negocia com os fortes. A cruz se inclina aos fracos. O conforto adora o púlpito. A cruz habita a rua. E é aqui que uma pergunta incômoda precisa ser dita sem rodeios: por que milhões de pessoas dentro das igrejas seguem um evangelho de conveniência e repudiam ouvir a verdade de Jesus, como ele viveu e o que ensinou?
Parte da resposta é medo. O Evangelho real mexe onde dói: no bolso, no ego, no status, no modo de consumir, no jeito de tratar gente, no modo de trabalhar, na obsessão por controle e na idolatria do desempenho. Ele não é apenas “uma crença”; é um chamado para uma vida diferente. E muita gente não rejeita Deus: rejeita ser transformada. Prefere um Cristo que confirme seus desejos, não um Cristo que os confronte. Prefere uma fé que funcione como seguro de vida emocional, não como caminho de discipulado.
Além disso, o nosso tempo prega uma religião rival, sem nome de igreja, mas com liturgia diária: consumo, acúmulo e produtividade. A sociedade diz que valor é performance: quem produz mais vale mais. Diz que segurança é acumular: quem tem mais está protegido. Diz que felicidade é comprar: quem consome mais se livra do vazio. E, aos poucos, esse “evangelho” do mercado invade o coração religioso. Deus vira ferramenta de prosperidade, e não medida ética de justiça. A bênção vira sinônimo de aumento. A espiritualidade vira discurso de vitória. A humildade vira “fraqueza”. A simplicidade vira “falta de propósito”. E a cruz vira apenas um símbolo decorativo, não um caminho.
Nesse ambiente, um Jesus pobre, simples, manso e ao mesmo tempo denunciador, vira incômodo. Ele desmascara a idolatria do dinheiro, a mentira do mérito como salvação, a vaidade travestida de “testemunho”. Ele chama de tesouro o que o mundo chama de perda: partilha, mansidão, misericórdia, serviço, generosidade, perdão, vida escondida. E ele denuncia o que o mundo chama de vitória: a riqueza erguida sobre exploração, a religião usada para subir, a fé usada para possuir gente e dominar consciências.
Por isso muitos preferem um Jesus domesticado, um Cristo adaptado à ideologia predominante. Em vez de deixar o Evangelho julgar a cultura do consumo, querem que o Evangelho legitime o consumo. Em vez de deixar Jesus confrontar o acúmulo, querem que Jesus abençoe o acúmulo. Em vez de deixar o Evangelho curar a compulsão pela produtividade, querem que Deus seja o treinador dessa compulsão. Nesse ponto, a igreja corre o risco de deixar de ser sinal do Reino e virar capelania do sistema: santifica o excesso, chama ganância de “propósito”, transforma ostentação em “prova de fé”, e troca o escândalo do Evangelho por uma mensagem que não ofende ninguém importante.
Mas basta abrir Atos dos Apóstolos para ver a diferença. Os primeiros cristãos não eram um mercado religioso; eram uma comunidade. Não viviam perfeição, mas viviam direção: partilha, cuidado mútuo, simplicidade, serviço. A fé ali não era instrumento de ascensão individual; era forma de vida que reorganizava prioridades e relações. Aquilo não era só “culto”; era uma nova maneira de existir. E isso confrontava o império, porque formava pessoas menos compráveis, menos domesticáveis, menos submissas aos ídolos do tempo.
Jesus não foi crucificado por uma maldade abstrata. Ele foi crucificado porque sua vida ameaçou os poderes do seu tempo: uma religião capturada pelo status, uma política reduzida ao cálculo e um império intolerante a qualquer esperança transformadora. Essa conjuntura não desapareceu; apenas trocou de roupa. Hoje a cruz pode ser bala, mas também pode ser difamação, cancelamento, isolamento, perseguição institucional, processos engavetados e reputações destruídas. O método muda; a finalidade é a mesma: calar quem insiste em fazer o Evangelho sair do discurso e virar corpo.
A pergunta que atravessa os séculos permanece: nossa religião está no rastro do Mestre que escolheu a cruz, ou no caminho confortável de quem abençoa o poder? Se for a segunda opção, a fé vira ornamento. Mas se a fé decidir tornar-se novamente corpo — pão repartido, visita ao preso, defesa da dignidade humana, justiça como forma de amor, acolhimento radical — então ela deixa de ser decoração e volta a ser seguimento. E seguir os passos do Mestre, no mundo real, raramente é confortável.
Paulo Lemos, brasileiro, advogado (OAB/MT nº 9.792).

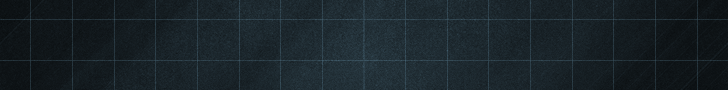






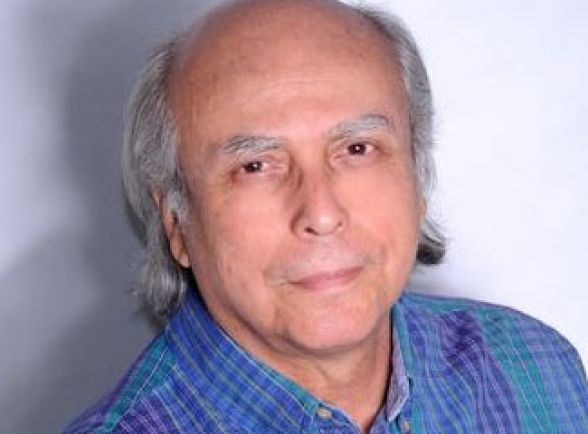





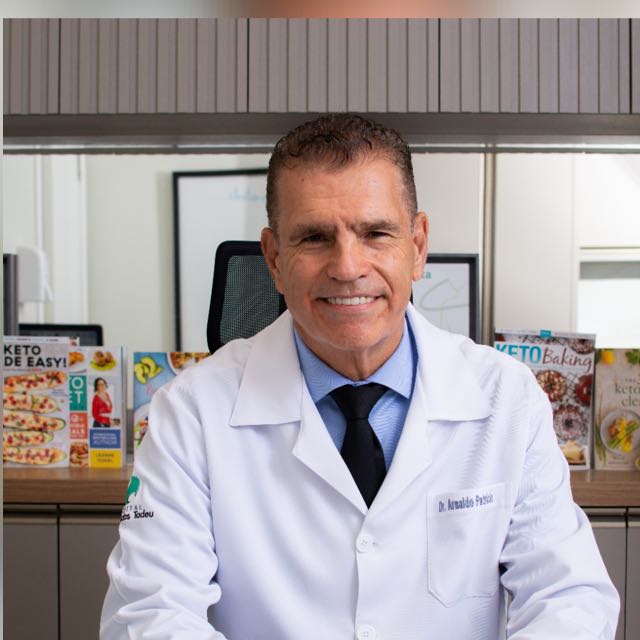









Ainda não há comentários.