Quem já leu uma sentença sabe: o Direito fala muito — e nem sempre se faz entender. A “linguagem jurídica” é mais que verniz técnico; é o lugar onde normas viram decisões, conflitos ganham forma e valores disputam sentido. Dizer o Direito é, antes de tudo, fazer algo com palavras. Não por acaso, J. L. Austin mostrou que há enunciados que não descrevem: performam (“condeno”, “absolvo”, “homologo”). Quando o juiz enuncia, ele altera o mundo social; John Searle detalhou esse mecanismo: instituições existem porque atos de fala criam “fatos institucionais” (promessas, contratos, sentenças). O formalismo, sozinho, não explica esse poder: é a gramática social da linguagem que dá eficácia ao rito.
Mas de onde esse dizer tira legitimidade? Hans Kelsen tentou isolá-la em uma arquitetura normativa pura; H. L. A. Hart deslocou o foco para a prática social: regras funcionam porque operadores compartilham um “ponto de vista interno”. Já Ronald Dworkin denunciou o vazio do decisionismo e reivindicou a interpretação “principial”: julgar é construir a melhor leitura moral do sistema. Robert Alexy acrescentou um método: quando direitos colidem, não basta invocar cláusulas; é preciso justificar restrições por proporcionalidade (adequação, necessidade, ponderação). A linguagem, assim, não é embalagem; é a própria arena onde se mede a razão do poder.
Há, porém, um risco: tomar o jargão por ciência. Ludwig Wittgenstein lembrava que o significado está no uso — em “jogos de linguagem” que variam conforme a prática. O advogado, o defensor público, o promotor e o juiz jogam jogos próximos, mas não idênticos; há fricção entre falar “para convencer” e falar “para decidir”. Chaïm Perelman mostra que a argumentação jurídica não busca verdades apodíticas, e sim a adesão do auditório por razões plausíveis. Hermenêutica, portanto, não é capricho: Gadamer ensinou que toda leitura nasce de pré-compreensões; a tarefa é expô-las ao texto com circularidade crítica, não fingir neutralidade.
Também há política na sintaxe. Michel Foucault advertiu que toda ordem discursiva produz e distribui saber-poder; ninguém fala do nada, e certos modos de dizer autorizam, outros silenciam. Jürgen Habermas responde com uma ética do discurso: decisões legítimas pedem publicidade, reciprocidade e razões que qualquer cidadão razoável possa avaliar. Se o Direito quer ser mais que comando, sua linguagem precisa ser traduzível para além do foro — clara, verificável, aberta ao dissenso.
No Brasil, Tércio Sampaio Ferraz Jr. distinguiu dimensões semântica, pragmática e sintática do jurídico; Luis Alberto Warat (argentino) desnaturalizou o “juridiquês”, mostrando como ele exclui quem mais precisa do Direito; Lenio Streck insiste na integridade hermenêutica para conter voluntarismos. Todas essas vozes convergem: mudar a linguagem não é perfumaria; é política pública de acesso à justiça.
Como, então, escrever e decidir melhor? Cinco pistas: (1) clareza sem perda técnica — termos precisos, mas frases curtas e construção direta; (2) estrutura argumentativa explícita — o leitor precisa ver o caminho: fatos, normas, precedentes, razões e alternativas rejeitadas; (3) proporcionalidade aplicada — dizer por que o meio escolhido é eficaz, necessário e equilibrado; (4) dialógica — decisões que enfrentam objeções fortes e reconhecem incertezas aumentam confiança; (5) linguagem inclusiva — quem não domina o jargão tem direito a compreender o que o Estado decide sobre sua vida.
A virada linguística do século XX ensinou que não há fatos “brutos” no Direito: há construções que podem ser melhores ou piores, mais ou menos justificadas. O desafio contemporâneo é combinar a força performativa (Austin/Searle) com a exigência deliberativa (Habermas), a integridade (Dworkin) com a proporcionalidade (Alexy), sem esquecer que toda prática repousa em jogos de linguagem (Wittgenstein) e contextos de poder (Foucault). No fim, a boa linguagem jurídica é aquela que domestica o poder pela razão, inclui o leigo na conversa e presta contas do que faz.
Em tempos de ruído e slogans, vale repetir: o Direito não se cumpre apenas no que decide, mas no modo como diz — porque, no foro e na praça, as palavras ainda são nosso melhor instrumento para tornar a justiça mais pública, mais responsável e, quem sabe, um pouco mais justa.
É por aí...
Gonçalo Antunes de Barros Neto (Saíto) é da Academia Mato-Grossense de Magistrados (cadeira 19) e da Academia Mato-Grossense de Direito (Cadeira 30) (Email: podbedelhar@gmail.com).

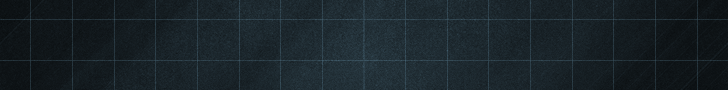







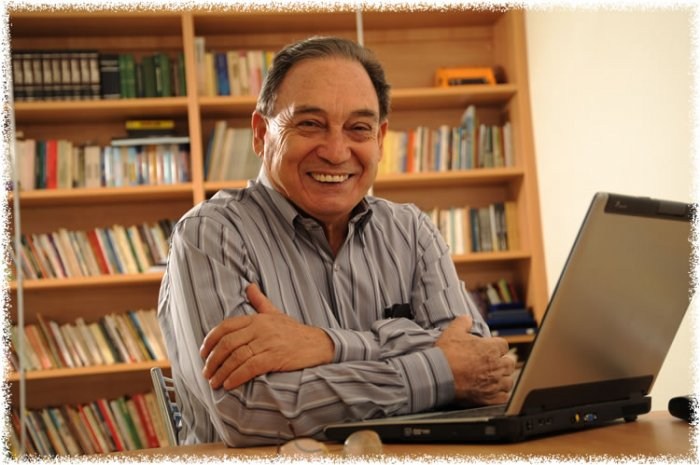













Ainda não há comentários.